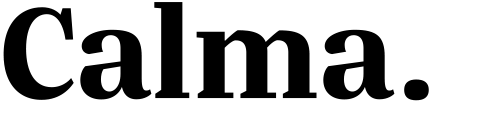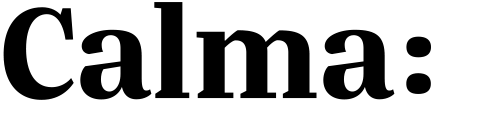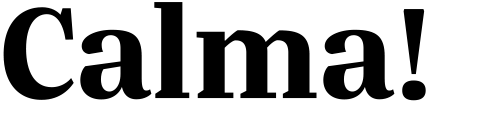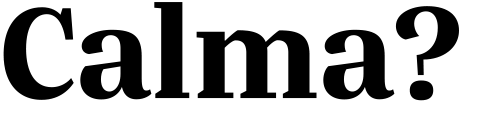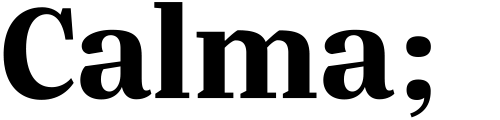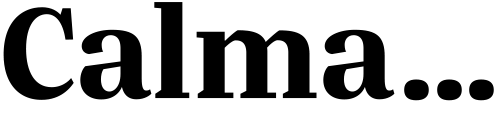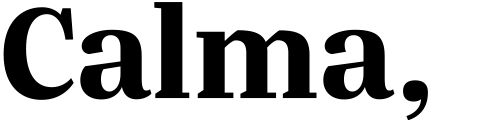Paulo Nepomuceno
Uma entrevista:
David Lee.
—
Para quem está de olho no trabalho do cearense David Lee, andar por Fortaleza pode parecer que ele está em todos os lugares. Não só por ter sua assinatura nos uniformes da Pinacoteca do Ceará e do Museu da Imagem e do Som. Também o amarelo característico, que adotou para si, colhido das sinalizações urbanas, pode ser visto em placas de restaurantes, fachadas de prédios e à beira-mar. É coincidência cromática, mas resume bem o discurso do criador que, por instinto, traduziu uma urbanidade nordestina para a moda enquanto introduzia o crochê no guarda-roupa masculino contemporâneo — pioneiro nessa história.
Já são mais de dez anos que ele apareceu nas passarelas do DFB Festival, evento de moda de Fortaleza que o revelou. Hoje, desfilando também na SFPW, David tem exercitado a sua moda feminina e outras artesanias. Mas é no Ceará que não deixa para trás — continua produzindo e atuando por lá — que nos encontramos, logo depois do desfile no último DFB, em maio, que ilustra esta conversa.
Você tem um sentimento pelo que faz que é raro. De onde veio esse amor pela moda, pelo fazer artesanal?
Foi algo que acabei descobrindo. Minha vontade inicial nem era fazer moda, não era nada que eu sonhava. Nem imaginava. Mas desenhava desde criança, me dava muito prazer. Era o aluno que fazia os trabalhos das aulas de artes com gosto. Então fui atrás de algo em que pudesse exercitar isso. Busquei arquitetura e moda na Universidade Federal do Ceará, mas não consegui passar no vestibular — a nota de matemática acabava com a minha média. Em paralelo, fiz desenho de moda no Senac e fui buscando entender esse mundo — lia tudo, estava em todas as palestras, cursos, que pudessem me inserir na profissão. Em 2001, pude participar do concurso Lycra Future Designers na categoria de jeanswear, que achei que seria mais fácil de executar, já que eu não tinha tanto conhecimento. O Claudio [Silveira, fundador do DFB] até fazia parte do júri. Me joguei, passei pelas etapas e cheguei à final — mas não consegui enviar o look a tempo. Isso gerou uma comoção, eles viram o meu esforço e me permitiram ir até a premiação, mesmo sem concorrer. Ali entendi essa paixão, pude perceber que por meio disso consigo pôr para fora a minha visão de mundo. E também desenvolver essa imersividade na cultura local que, para mim, é preciosa.
E o tricô apareceu como nessa história?
Em dado momento, conheci uma artesã, Cristina Maia, com quem passei a dividir ateliê. Trocávamos muito, foi ela que me aproximou do artesanato. Nos conhecemos em 2013, quando quis usar crochê em um concurso. Queria construir peças usando palha de buriti, pedi ajuda ao [estilista maranhense] Ivanildo Nunes, que nos pôs em contato. Mas eu não sabia de nada, né? Comprei um tanto de palha bem curtinha que ela viu e logo disse: “Isso aqui não dá para fazer nada, menino”. Cris faleceu no ano passado, era uma apaixonada pelo manual feito de maneiras inventivas. E me desafiava bastante. Porque, normalmente, o artesanato segue a linha da repetição — quando sai do roteiro, as artesãs costumam não gostar. Ela funcionava da maneira contrária. Um tanto de coisa que vejo sendo produzida hoje, ela já fez há anos. O meu feito à mão veio através dela. Foi aí que elaborei essa história, ter o conhecimento e acessar outras mulheres que também produzem e trabalham comigo. E que estão aqui pela cidade mesmo, não são do interior. Pois eu também acho que — devido a essa coisa do artesanal ter força — sempre pensam que é feito no interior, no sertão. Que o designer vai lá e muda a vida delas… esses discursos me incomodam demais, sabe? Elas é que mudam a própria vida. Estou ali tendo um vínculo de trabalho que seja justo, que seja saudável. Não me sinto nesse papel de mudança. Tanto que acho que perdi muito esse espaço de contar sobre o artesanato, como o introduzi na moda masculina, até sobre certo pioneirismo, porque não achava esse discurso legal. Então, não contava. Em paralelo, outras marcas vieram fazendo, né? E esse trabalho ganha relevância quando o crochê é valorizado na moda, mais recentemente. Mas em 2013, 2014, ninguém fazia, ninguém gostava de crochê.
Já são mais de dez anos que ele apareceu nas passarelas do DFB Festival, evento de moda de Fortaleza que o revelou. Hoje, desfilando também na SFPW, David tem exercitado a sua moda feminina e outras artesanias. Mas é no Ceará que não deixa para trás — continua produzindo e atuando por lá — que nos encontramos, logo depois do desfile no último DFB, em maio, que ilustra esta conversa.
Você tem um sentimento pelo que faz que é raro. De onde veio esse amor pela moda, pelo fazer artesanal?
Foi algo que acabei descobrindo. Minha vontade inicial nem era fazer moda, não era nada que eu sonhava. Nem imaginava. Mas desenhava desde criança, me dava muito prazer. Era o aluno que fazia os trabalhos das aulas de artes com gosto. Então fui atrás de algo em que pudesse exercitar isso. Busquei arquitetura e moda na Universidade Federal do Ceará, mas não consegui passar no vestibular — a nota de matemática acabava com a minha média. Em paralelo, fiz desenho de moda no Senac e fui buscando entender esse mundo — lia tudo, estava em todas as palestras, cursos, que pudessem me inserir na profissão. Em 2001, pude participar do concurso Lycra Future Designers na categoria de jeanswear, que achei que seria mais fácil de executar, já que eu não tinha tanto conhecimento. O Claudio [Silveira, fundador do DFB] até fazia parte do júri. Me joguei, passei pelas etapas e cheguei à final — mas não consegui enviar o look a tempo. Isso gerou uma comoção, eles viram o meu esforço e me permitiram ir até a premiação, mesmo sem concorrer. Ali entendi essa paixão, pude perceber que por meio disso consigo pôr para fora a minha visão de mundo. E também desenvolver essa imersividade na cultura local que, para mim, é preciosa.
E o tricô apareceu como nessa história?
Em dado momento, conheci uma artesã, Cristina Maia, com quem passei a dividir ateliê. Trocávamos muito, foi ela que me aproximou do artesanato. Nos conhecemos em 2013, quando quis usar crochê em um concurso. Queria construir peças usando palha de buriti, pedi ajuda ao [estilista maranhense] Ivanildo Nunes, que nos pôs em contato. Mas eu não sabia de nada, né? Comprei um tanto de palha bem curtinha que ela viu e logo disse: “Isso aqui não dá para fazer nada, menino”. Cris faleceu no ano passado, era uma apaixonada pelo manual feito de maneiras inventivas. E me desafiava bastante. Porque, normalmente, o artesanato segue a linha da repetição — quando sai do roteiro, as artesãs costumam não gostar. Ela funcionava da maneira contrária. Um tanto de coisa que vejo sendo produzida hoje, ela já fez há anos. O meu feito à mão veio através dela. Foi aí que elaborei essa história, ter o conhecimento e acessar outras mulheres que também produzem e trabalham comigo. E que estão aqui pela cidade mesmo, não são do interior. Pois eu também acho que — devido a essa coisa do artesanal ter força — sempre pensam que é feito no interior, no sertão. Que o designer vai lá e muda a vida delas… esses discursos me incomodam demais, sabe? Elas é que mudam a própria vida. Estou ali tendo um vínculo de trabalho que seja justo, que seja saudável. Não me sinto nesse papel de mudança. Tanto que acho que perdi muito esse espaço de contar sobre o artesanato, como o introduzi na moda masculina, até sobre certo pioneirismo, porque não achava esse discurso legal. Então, não contava. Em paralelo, outras marcas vieram fazendo, né? E esse trabalho ganha relevância quando o crochê é valorizado na moda, mais recentemente. Mas em 2013, 2014, ninguém fazia, ninguém gostava de crochê.

 Eduardo Maranhão
Eduardo MaranhãoNessa época, quando estava vendo as possibilidades, você começou a fazer crochê por sentir um espaço de mercado ou foi na base do instinto?
Foi totalmente por instinto. A minha vontade era de propor outras coisas para a moda masculina, que era o que eu amava, que amo. Esse foi o ponto de partida. Pensava o que poderia trazer de novo. Então fui nessa intuição, só depois que percebi um espaço de mercado. E que havia ali uma estratégia de branding possível, de contar histórias que calhavam com o que eu queria falar — do uso de um material frágil, associado ao feminino, que contrasta com a rigidez em que o homem ainda é colocado.
As pessoas percebem esse viés?
Algumas, sim. Mas, fora da moda, acho que não. Há essa quebra, né? Normalmente veem como algo bonito, não necessariamente com uma profundidade de pensamento.
E recentemente você abraçou também a criação para a moda feminina.
Sim, estou exercitando e entendendo as nuances que têm a ver com o meu trabalho. Vou sempre puxar do masculino, pois foi a minha base. Mas queria mesmo feminilizar algumas características, trazer traços que não são associados aos homens e que considero relevantes. Comecei a desenhar para as mulheres em 2022 e, a cada coleção, faço um pouco mais — neste último desfile, foram dez looks.
Foi totalmente por instinto. A minha vontade era de propor outras coisas para a moda masculina, que era o que eu amava, que amo. Esse foi o ponto de partida. Pensava o que poderia trazer de novo. Então fui nessa intuição, só depois que percebi um espaço de mercado. E que havia ali uma estratégia de branding possível, de contar histórias que calhavam com o que eu queria falar — do uso de um material frágil, associado ao feminino, que contrasta com a rigidez em que o homem ainda é colocado.
As pessoas percebem esse viés?
Algumas, sim. Mas, fora da moda, acho que não. Há essa quebra, né? Normalmente veem como algo bonito, não necessariamente com uma profundidade de pensamento.
E recentemente você abraçou também a criação para a moda feminina.
Sim, estou exercitando e entendendo as nuances que têm a ver com o meu trabalho. Vou sempre puxar do masculino, pois foi a minha base. Mas queria mesmo feminilizar algumas características, trazer traços que não são associados aos homens e que considero relevantes. Comecei a desenhar para as mulheres em 2022 e, a cada coleção, faço um pouco mais — neste último desfile, foram dez looks.

 Eduardo Maranhão
Eduardo MaranhãoDesfile de Lindebergue Fernandes em 2002 / Acervo pessoal
Você fez uma homenagem neste desfile ao Lindebergue Fernandes, um ícone da moda da Fortaleza contemporânea. Como foi isso?
Foi, nas peças construídas com panos de prato — algo que ele já tinha feito havia muito tempo. Acho que a história de citar Lindebergue no desfile vem de perceber que temos uma geração de criadores de moda que não referencia quem veio antes, que não lembra nem faz questão de saber. Nem sei se é a minha geração especificamente, mas é algo que observo. Quem tem visibilidade hoje ignora o passado. É algo que me incomoda muito. Quem veio antes sabe do que se passa, né? Estou a toda hora falando sobre localidades, sobre o Nordeste; Lili já fazia isso muito antes de mim. O uso dos panos de prato, ele apresentou em 2002 — eu nem pensava em moda nessa época! Então, quando pensei em usar esse material, vi a oportunidade de fazer essa homenagem.
Essa coisa do Nordeste, de que você fala tanto, está muito na moda.
Total na moda, mas… me incomoda ver que estão bebendo dessas fontes da forma errada. Esse repertório, que é tão significativo para nós, que é nosso, muitas vezes é contado por pessoas que nem são nordestinas. E isso atrai um público que nem sabe ou, muitas vezes, nem gosta do Nordeste. Daí, acaba-se legitimando essas pessoas, comprando delas. Em vez de comprar do David Lee, do Ateliê Mão de Mãe, vai comprar de uma marca que é lida como sudestina e está bebendo da nossa área. Como se não ter sido feito aqui fosse um incômodo a menos. Entende? Falo muito sobre o Nordeste e nem quero mudar, é algo que me faz total sentido. Mas às vezes me pergunto se mudasse esse modus operandi, o meu trabalho seria encarado de outra forma.
Seu trabalho tem essa veia nordestina, claro, por você ser cearense, produzir em Fortaleza. Mas sua moda não é tão obviamente daqui, tem um pensamento mais amplo. Como você chegou a isso?
É intencional. Entre os meus estudos, que foram autodidatas, quando cheguei a essa parte do artesanato, quis ir para a história da ressignificação. Não adianta eu pegar o crochê e usar igual ao que existe nas feiras de artesanato, não há um pensamento de design nisso. Então comecei a me cobrar nesse sentido: se vou trabalhar com artesanato, preciso achar outros caminhos. Por isso as cores fortes, por exemplo, o blocado do amarelo, do vermelho. Tentava estruturar esse fazer manual através da modelagem, algo que não é comum ao trabalho tradicional das artesãs. Elas trabalham com receita, contando os pontos. Com Cris, desenvolvi o inverso, de encaixar o crochê na modelagem. Desenho como se fosse fazer a roupa com tecido e executo o manual em cima disso, achando formas de modelar esse crochê. Então há esse valor de construção vindo de mim. Houve uma resistência para pôr na mão delas, pois não queriam fugir das receitas a que já estavam acostumadas. Foi um processo, mas, hoje, não querem mais fazer sem molde! E a Cris me desafiava sempre: isso aqui tinha cara de feirinha; aquilo outro, alguém já tinha feito há tantos anos. Essa linguagem que trouxe agora, dos florais, é o primeiro elemento que elas aprendem no crochê. Havia muito tempo flertava com ele, querendo trazer de uma forma diferente, sofisticada. Ali me lembrei muito de Cris também. Ela me deixou um legado. Inclusive tem peças no desfile que vieram dela. Foi uma homenagem, para tê-la ali comigo, que só eu sei.
Foi, nas peças construídas com panos de prato — algo que ele já tinha feito havia muito tempo. Acho que a história de citar Lindebergue no desfile vem de perceber que temos uma geração de criadores de moda que não referencia quem veio antes, que não lembra nem faz questão de saber. Nem sei se é a minha geração especificamente, mas é algo que observo. Quem tem visibilidade hoje ignora o passado. É algo que me incomoda muito. Quem veio antes sabe do que se passa, né? Estou a toda hora falando sobre localidades, sobre o Nordeste; Lili já fazia isso muito antes de mim. O uso dos panos de prato, ele apresentou em 2002 — eu nem pensava em moda nessa época! Então, quando pensei em usar esse material, vi a oportunidade de fazer essa homenagem.
Essa coisa do Nordeste, de que você fala tanto, está muito na moda.
Total na moda, mas… me incomoda ver que estão bebendo dessas fontes da forma errada. Esse repertório, que é tão significativo para nós, que é nosso, muitas vezes é contado por pessoas que nem são nordestinas. E isso atrai um público que nem sabe ou, muitas vezes, nem gosta do Nordeste. Daí, acaba-se legitimando essas pessoas, comprando delas. Em vez de comprar do David Lee, do Ateliê Mão de Mãe, vai comprar de uma marca que é lida como sudestina e está bebendo da nossa área. Como se não ter sido feito aqui fosse um incômodo a menos. Entende? Falo muito sobre o Nordeste e nem quero mudar, é algo que me faz total sentido. Mas às vezes me pergunto se mudasse esse modus operandi, o meu trabalho seria encarado de outra forma.
Seu trabalho tem essa veia nordestina, claro, por você ser cearense, produzir em Fortaleza. Mas sua moda não é tão obviamente daqui, tem um pensamento mais amplo. Como você chegou a isso?
É intencional. Entre os meus estudos, que foram autodidatas, quando cheguei a essa parte do artesanato, quis ir para a história da ressignificação. Não adianta eu pegar o crochê e usar igual ao que existe nas feiras de artesanato, não há um pensamento de design nisso. Então comecei a me cobrar nesse sentido: se vou trabalhar com artesanato, preciso achar outros caminhos. Por isso as cores fortes, por exemplo, o blocado do amarelo, do vermelho. Tentava estruturar esse fazer manual através da modelagem, algo que não é comum ao trabalho tradicional das artesãs. Elas trabalham com receita, contando os pontos. Com Cris, desenvolvi o inverso, de encaixar o crochê na modelagem. Desenho como se fosse fazer a roupa com tecido e executo o manual em cima disso, achando formas de modelar esse crochê. Então há esse valor de construção vindo de mim. Houve uma resistência para pôr na mão delas, pois não queriam fugir das receitas a que já estavam acostumadas. Foi um processo, mas, hoje, não querem mais fazer sem molde! E a Cris me desafiava sempre: isso aqui tinha cara de feirinha; aquilo outro, alguém já tinha feito há tantos anos. Essa linguagem que trouxe agora, dos florais, é o primeiro elemento que elas aprendem no crochê. Havia muito tempo flertava com ele, querendo trazer de uma forma diferente, sofisticada. Ali me lembrei muito de Cris também. Ela me deixou um legado. Inclusive tem peças no desfile que vieram dela. Foi uma homenagem, para tê-la ali comigo, que só eu sei.


Eduardo Maranhão
Quando se fala de Nordeste, é muito fácil vir a imagem do sertão, do marrom, da vida sofrida. Você foge desse clichê.
Sim, é algo que me foi dado na minha construção pessoal, de vida mesmo, na periferia de Fortaleza.
O seu sertão é outro.
Exatamente. Inclusive por isso eu não queria me construir em cima de uma linguagem de vitimismo, algo que a moda não encara bem. Não queria ficar contando essa história toda hora, isso não ia me elevar. O meu trabalho é que era importante, então busquei outra linguagem. Se algo era uma caricatura do Nordeste, eu pulava fora. Tudo o que era esperado, eu me cobrava para fazer diferente. E trazendo para o meu percurso pessoal, de racialidade, várias coisas que me atravessam e que eu preferia não colocar peso. Pensava em contar mais para a frente, quando já tivesse uma carreira mais relevante. A moda tem essas nuances, eleva você, mas também “baixa”. Então queria que o meu trabalho brilhasse, depois é que viria a história. Hoje, não. Vem lado a lado. Já acho que posso contar mais, que faz sentido. E também a coisa do exemplo, de outras pessoas talvez verem o que estou construindo a partir de pouco.
Você citou racialidade agora, mas como ela aparece no seu trabalho?
Não sei se é algo realmente visível, está na base. Outro incômodo é que as pessoas preferem ler a racialidade no trabalho como se fosse óbvio — como se eu tivesse que usar bases africanas, com tipografias étnicas. E também houve um momento da imprensa de ler isso de forma muito rasa, de colocar os estilistas negros dentro de apenas uma caixa. Converso muito isso com a Angela Brito, de como a raça está presente no nosso trabalho. Algumas coisas tento reproduzir em linguagens mínimas, dentro da pesquisa que faço, com citações. Não vou fazer uma estampa para você perceber de onde vim. Prefiro ir para um campo de colocar um modelo negro para abrir o desfile, tentar priorizar essa imagem, trabalhar nos bastidores com pessoas para quem eu possa dar uma oportunidade. Não é necessariamente estético.
Imagino que a questão de raça também apareça, na diagonal, por você ser um criador que veio da periferia.
Não enxergo isso tanto nas peças, necessariamente. Talvez esteja imbuído nessa coisa do urbano de que gosto. Porque eu realmente não tenho nenhuma vivência de interior, não tenho memória do sertão. Fui para o interior do Piauí pela primeira vez no ano passado, estava lá estranhando os cavalos na rua. A gente sempre morou em periferia, a minha família, mas não era uma realidade precária demais. Meus pais puderam pagar escola particular para mim e meu irmão. Acho que o que veio dali foi a questão da coletividade, sabe? Dos vizinhos que se conhecem e se ajudam. Tenho muito isso ao meu redor até hoje, das pessoas se unindo. Esse senso de comunidade.
Falamos sobre a roupa construída com panos de prato, mas você tem outros materiais interessantes nessa coleção.
Além dos panos de prato, tem as peças construídas com tapeçaria de rede, feita com tear. As peças brancas são com bordado redendê, que é bem típico de Aracaju. Uma pessoa que trabalha comigo foi para lá e me trouxe essas toalhas imensas que transformei em roupas. E as flores de crochê, que trouxe para mesclar. Mas, tirando elas, os outros materiais eu comprei todos prontos em lojas de artesanato. A tapeçaria, comprei tudo o que havia quando vi que era a paleta do desfile — e depois entendi que seria quase impossível de reproduzir, pois eles vão fazendo as combinações com o que vem à cabeça na hora, com as cores e as matérias-primas disponíveis. Eu teria que ir até Jaguaruana, cidade que é a terra da rede no Ceará, para entender como fazer.
Sim, é algo que me foi dado na minha construção pessoal, de vida mesmo, na periferia de Fortaleza.
O seu sertão é outro.
Exatamente. Inclusive por isso eu não queria me construir em cima de uma linguagem de vitimismo, algo que a moda não encara bem. Não queria ficar contando essa história toda hora, isso não ia me elevar. O meu trabalho é que era importante, então busquei outra linguagem. Se algo era uma caricatura do Nordeste, eu pulava fora. Tudo o que era esperado, eu me cobrava para fazer diferente. E trazendo para o meu percurso pessoal, de racialidade, várias coisas que me atravessam e que eu preferia não colocar peso. Pensava em contar mais para a frente, quando já tivesse uma carreira mais relevante. A moda tem essas nuances, eleva você, mas também “baixa”. Então queria que o meu trabalho brilhasse, depois é que viria a história. Hoje, não. Vem lado a lado. Já acho que posso contar mais, que faz sentido. E também a coisa do exemplo, de outras pessoas talvez verem o que estou construindo a partir de pouco.
Você citou racialidade agora, mas como ela aparece no seu trabalho?
Não sei se é algo realmente visível, está na base. Outro incômodo é que as pessoas preferem ler a racialidade no trabalho como se fosse óbvio — como se eu tivesse que usar bases africanas, com tipografias étnicas. E também houve um momento da imprensa de ler isso de forma muito rasa, de colocar os estilistas negros dentro de apenas uma caixa. Converso muito isso com a Angela Brito, de como a raça está presente no nosso trabalho. Algumas coisas tento reproduzir em linguagens mínimas, dentro da pesquisa que faço, com citações. Não vou fazer uma estampa para você perceber de onde vim. Prefiro ir para um campo de colocar um modelo negro para abrir o desfile, tentar priorizar essa imagem, trabalhar nos bastidores com pessoas para quem eu possa dar uma oportunidade. Não é necessariamente estético.
Imagino que a questão de raça também apareça, na diagonal, por você ser um criador que veio da periferia.
Não enxergo isso tanto nas peças, necessariamente. Talvez esteja imbuído nessa coisa do urbano de que gosto. Porque eu realmente não tenho nenhuma vivência de interior, não tenho memória do sertão. Fui para o interior do Piauí pela primeira vez no ano passado, estava lá estranhando os cavalos na rua. A gente sempre morou em periferia, a minha família, mas não era uma realidade precária demais. Meus pais puderam pagar escola particular para mim e meu irmão. Acho que o que veio dali foi a questão da coletividade, sabe? Dos vizinhos que se conhecem e se ajudam. Tenho muito isso ao meu redor até hoje, das pessoas se unindo. Esse senso de comunidade.
Falamos sobre a roupa construída com panos de prato, mas você tem outros materiais interessantes nessa coleção.
Além dos panos de prato, tem as peças construídas com tapeçaria de rede, feita com tear. As peças brancas são com bordado redendê, que é bem típico de Aracaju. Uma pessoa que trabalha comigo foi para lá e me trouxe essas toalhas imensas que transformei em roupas. E as flores de crochê, que trouxe para mesclar. Mas, tirando elas, os outros materiais eu comprei todos prontos em lojas de artesanato. A tapeçaria, comprei tudo o que havia quando vi que era a paleta do desfile — e depois entendi que seria quase impossível de reproduzir, pois eles vão fazendo as combinações com o que vem à cabeça na hora, com as cores e as matérias-primas disponíveis. Eu teria que ir até Jaguaruana, cidade que é a terra da rede no Ceará, para entender como fazer.


Eduardo Maranhão
De onde veio essa vontade de produzir roupas através de materiais que já estão prontos?
Eu sempre falo que trabalho com a criatividade da escassez. Sempre foi assim, produzindo com o que tenho na mão. É minha forma de acessar aquilo naquele momento. Porque sei o tempo que levaria para produzir algo só para mim, é um fator dificultante. As ideias vêm muito rápido, né? E o tempo é sempre pouco. Então vou pegando essas coisas que estão mais palpáveis, testando dentro das modelagens em busca dessa sofisticação a mais. É um jeito fácil de testar antes de entrar em contato com quem está produzindo aquelas artesanias. Quero ir a Aracaju no próximo semestre, sentar com as bordadeiras e entender os limites técnicos, como poderíamos trabalhar. Mas isso demanda um planejamento em longo prazo que ainda não consigo encaixar no ritmo da marca.
Apesar da escassez, essa dificuldade dos materiais não reproduzíveis, como a tapeçaria em tear que você citou, põe você numa posição interessante: são peças únicas, praticamente. Aí você acaba entrando em um conceito de luxo muito próprio, tanto pela preciosidade do material quanto pela exclusividade da peça final.
É um pensamento interessante mesmo, mas foi totalmente sem querer. Você que está me fazendo enxergar isso. A ideia era pegar essas tipologias além do crochê — que eu mesmo acho que já está começando a saturar. Quero pesquisar outras artesanias. Na coleção passada, eu tentei introduzir a renda filé, que tinha tudo a ver com a história que contamos. Mas, de novo, seria demorado. Para essas introduções, é preciso tempo. Mas quero desbravar os interiores para pesquisar isso, cada vez mais.
Eu sempre falo que trabalho com a criatividade da escassez. Sempre foi assim, produzindo com o que tenho na mão. É minha forma de acessar aquilo naquele momento. Porque sei o tempo que levaria para produzir algo só para mim, é um fator dificultante. As ideias vêm muito rápido, né? E o tempo é sempre pouco. Então vou pegando essas coisas que estão mais palpáveis, testando dentro das modelagens em busca dessa sofisticação a mais. É um jeito fácil de testar antes de entrar em contato com quem está produzindo aquelas artesanias. Quero ir a Aracaju no próximo semestre, sentar com as bordadeiras e entender os limites técnicos, como poderíamos trabalhar. Mas isso demanda um planejamento em longo prazo que ainda não consigo encaixar no ritmo da marca.
Apesar da escassez, essa dificuldade dos materiais não reproduzíveis, como a tapeçaria em tear que você citou, põe você numa posição interessante: são peças únicas, praticamente. Aí você acaba entrando em um conceito de luxo muito próprio, tanto pela preciosidade do material quanto pela exclusividade da peça final.
É um pensamento interessante mesmo, mas foi totalmente sem querer. Você que está me fazendo enxergar isso. A ideia era pegar essas tipologias além do crochê — que eu mesmo acho que já está começando a saturar. Quero pesquisar outras artesanias. Na coleção passada, eu tentei introduzir a renda filé, que tinha tudo a ver com a história que contamos. Mas, de novo, seria demorado. Para essas introduções, é preciso tempo. Mas quero desbravar os interiores para pesquisar isso, cada vez mais.

Paulo Nepomuceno

Eduardo Maranhão
!
30.07.2025Uma versão desta entrevista foi originalmente publicada na revista L'Officiel Brasil #123